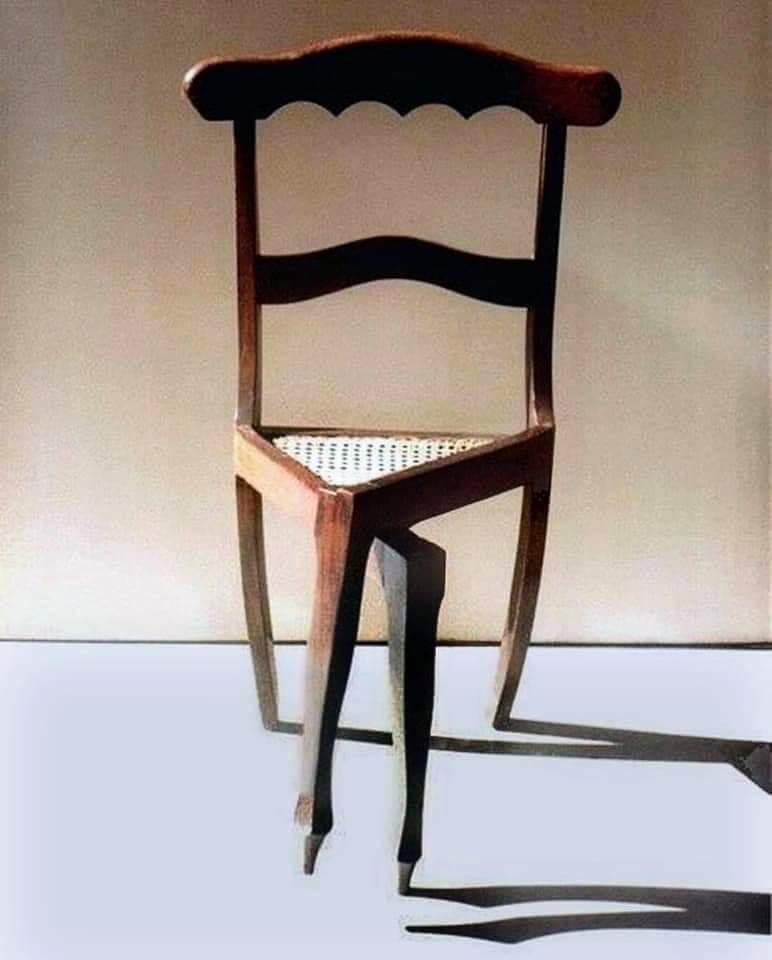Valério Romão, no Hoje Macau (30 Julho 2021)
«Certo dia aproveitei o bom humor do meu pai para lhe confessar que preferia gatos a cães. Ele, nascido e criado no campo, na serra algarvia, não percebia porquê. Os animais, para o meu pai, ou tinham uma serventia ou não tinham lugar no círculo doméstico mais alargado. Era-lhe absolutamente estranha a ideia de «animal de estimação». Isso era coisa de gente a quem o dinheiro a mais espoletava a adopção de toda a sorte de comportamentos excêntricos pouco desejáveis. «Um gato para quê?», perguntou-me? «O que vais fazer com um gato?» Na verdade, nem eu próprio sabia. Sentia-me sozinho, tinha pouquíssimo amigos e imaginava que um gato pudesse de alguma forma suprir ou pelo menos minorar essa carência. «Para brincar com ele», respondi, timidamente. «Um gato sai caro», asseverou. «Já temos dois cães, já gastamos tudo quanto podemos gastar em comida para os bichos». Tinha esperança de que ele me tentasse dissuadir sacando do trunfo do dinheiro. «Eu pago», repliquei. «Eu tenho dinheiro». Ele riu-se. «Então mostra lá esse dinheiro», gracejou, «a ver quantos dias consegues dar de comida ao animal, que tu não tens noção do preço das rações». Eu fui buscar um dos mealheiros, atulhado até à boca de moedas e despejei-o em cima da mesa da cozinha. Ele olhou para as moedas, para mim, para as moedas novamente e logo para mim. Não fez perguntas. Eu mantive-me estrategicamente em silêncio. «Quando aparecer aí nas redondezas uma gata que tenha uma ninhada, a gente conversa».
Acabei por ter um gato, um mês e pouco depois. O meu pai, pensando que eu era a criança mais poupada da história das crianças poupadas, não só mo trouxe a casa como me acompanhou orgulhoso ao supermercado para comprar um areão e comida para ele. A senhora da caixa, impermeável à vaidade paterna, reclamava da quantidade de moedas que tinha de contar. O meu pai, impassível, repetia: «algum problema? É dinheiro, não é?».»